Clelio Campolina Diniz foi reitor da UFMG e ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação.
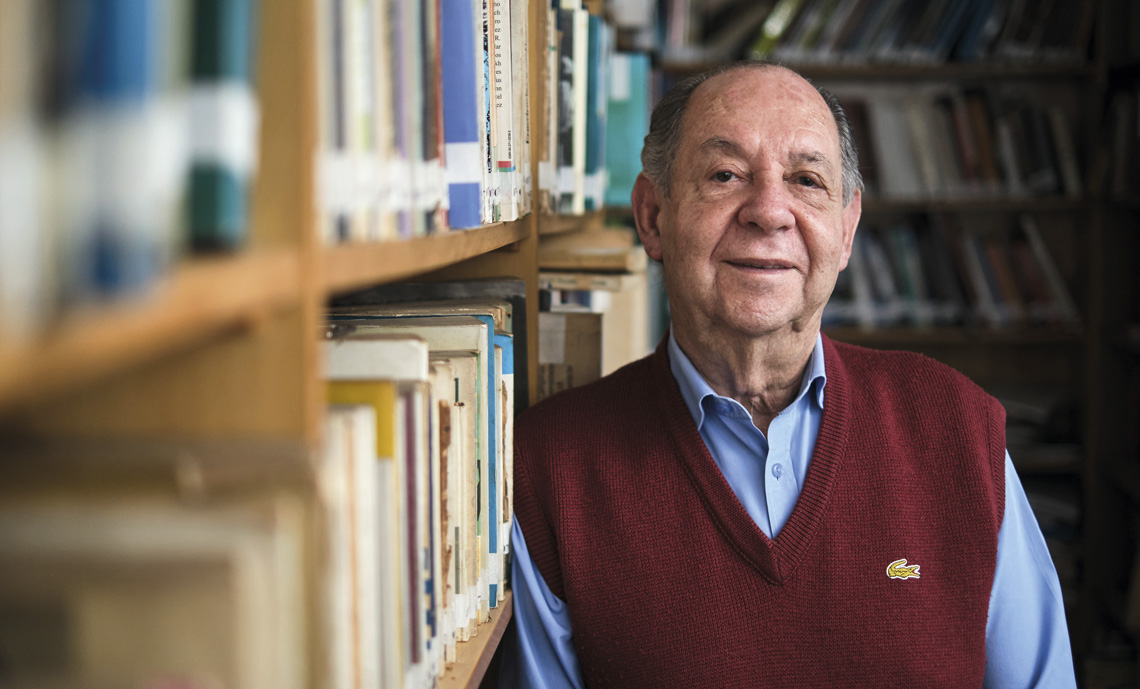 A trajetória do engenheiro Clelio Campolina Diniz, de 83 anos, é marcada por desfechos que desafiam as probabilidades. Entre 11 irmãos criados em uma pequena propriedade na zona rural de Esmeraldas, cidade a 56 quilômetros de Belo Horizonte, foi o único a chegar à universidade. Em 1964, ele conseguiu ingressar em um curso noturno de engenharia em uma faculdade particular de Belo Horizonte, depois de amargar uma reprovação na etapa final (uma entrevista) do vestibular da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) – quase 50 anos depois, seria escolhido reitor da UFMG.
A trajetória do engenheiro Clelio Campolina Diniz, de 83 anos, é marcada por desfechos que desafiam as probabilidades. Entre 11 irmãos criados em uma pequena propriedade na zona rural de Esmeraldas, cidade a 56 quilômetros de Belo Horizonte, foi o único a chegar à universidade. Em 1964, ele conseguiu ingressar em um curso noturno de engenharia em uma faculdade particular de Belo Horizonte, depois de amargar uma reprovação na etapa final (uma entrevista) do vestibular da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) – quase 50 anos depois, seria escolhido reitor da UFMG.
A destreza como datilógrafo, desenvolvida no trabalho em um escritório de contabilidade na adolescência, foi decisiva para que conquistasse uma vaga de escriturário em um concurso do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), de onde sairia uma década depois para iniciar uma carreira na academia no Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional (Cedeplar) da UFMG.
Na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), fez mestrado e doutorado, com período sanduíche de um ano e meio na Universidade de Oxford, no Reino Unido. Também passou períodos na London School of Economics and Political Science, no Reino Unido, na Universidade de Rutgers, nos Estados Unidos, e na Universidade de Roma, na Itália.
Especialista em economia regional, desenvolvimento econômico e economia da tecnologia e inovação, é autor de mais de 200 artigos científicos. Estudou as mazelas da industrialização de Minas Gerais e a desconcentração da atividade industrial no Brasil nas últimas décadas e defende um modelo de desenvolvimento regional que articule a cidade com o território. Aposentado da UFMG em 2014, teve uma passagem de 10 meses como ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação do governo Dilma Rousseff. Em maio, ele recebeu Pesquisa FAPESP em seu apartamento em Belo Horizonte para a entrevista a seguir.
O senhor vem de uma família pobre do meio rural. Que obstáculos enfrentou para se educar?
O meu avô tinha uma pequena fazenda, que dividiu entre 10 filhos. Meu pai herdou um pequeno pedaço de terra e nós vivíamos na subsistência. Sou o mais novo de 11 irmãos. Na época, as crianças só eram matriculadas na escola quando completavam 7 anos. Mas eu era muito franzino, e era preciso caminhar mais ou menos 3,5 quilômetros para ir até a escola rural, então a minha família postergou mais um ano. Entrei na escola com 8 anos completos. Só era oferecido até o terceiro ano primário [atual ensino fundamental] na escola rural. Meus avós paternos foram trazidos para a cidade de Esmeraldas – em seguida, meu avô morreu. A minha avó convidou a mim e a um primo para morarmos com ela. Me matriculei no quarto ano primário, em 1956. Já estava com quase 14 anos. Depois, meu irmão mais velho me matriculou em um curso ginasial recém-aberto na cidade pelo novo padre. O curso tinha excelentes professores e a maioria dos alunos daquele ginásio fez curso superior. Enquanto frequentava o ginásio à noite, trabalhei em um bar, depois em um escritório de contabilidade, depois em uma pequena firma. Terminei o ginasial e, como era bom datilógrafo, vim para Belo Horizonte procurar emprego, porque queria continuar estudando.
O que conseguiu na capital?
Meu pai escreveu uma carta para um primo dele, que trabalhava na filial de uma grande firma comercial, perguntando se tinha jeito de arranjar um emprego para mim. Eles estavam precisando de funcionário. Fiz um teste e fui aprovado. Trabalhava oito horas, inclusive aos sábados até o meio-dia, e fui fazer o curso científico [atual ensino médio] à noite. Morava numa pensão. Com o salário mínimo que recebia, pagava a pensão, que incluía cama e comida, e a mensalidade do científico. Comecei a procurar emprego para trabalhar seis horas, para ter mais tempo de estudar. Fui ao antigo Banco Mineiro da Produção perguntar se tinha uma oportunidade. Me falaram: “Aqui não, mas no 22º andar do prédio tem um concurso aberto”. Era no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, que estava sendo criado pelo governo. Tinha 10 vagas para mais de 700 candidatos. Na classificação final fiquei em 4º lugar. Eu ia lá para saber quando seria chamado e diziam para esperar. Os dois primeiros classificados, alunos do curso de economia da UFMG bastante politizados, me disseram que estava havendo influência política nas contratações. Fui reclamar com um conselheiro do banco e aí me chamaram.
O que fazia no banco?
Entrei para o Departamento de Administração, mas logo foi criado o Departamento de Estudos e Planejamento e fui para lá como datilógrafo. O chefe era o Fernando Reis [1932-1983], professor da UFMG. Logo a equipe foi ampliada com outros professores da Faculdade de Ciências Econômicas e da Escola de Engenharia da universidade. Eu trabalhava com dedicação absoluta, fazia de tudo, e caí nas graças do Fernando Reis, da equipe e da direção do banco. Terminei o curso científico em 1963, já com 21 anos, e fiz o vestibular para engenharia na UFMG. Passei nas provas escritas, mas fui eliminado na entrevista. Fiz o vestibular do Ipuc [Instituto Politécnico da Universidade Católica de Minas Gerais], que havia sido criado pelo professor Mário Werneck, ex-diretor da Escola de Engenharia da UFMG. Passei e fui fazer o curso de engenharia de operações à noite.
Havia pouca indústria em Minas Gerais comandada pelo empresariado local: ou era do Estado ou de capital estrangeiro
Por que escolheu a engenharia?
Porque, no interior de onde eu venho, só tinha três profissões que a gente reconhecia: advogado, médico e engenheiro. Direito eu não gostava. Quando eu era adolescente, meu pai recomendava assistir aos júris na cidade, dizendo que eram muito instrutivos. Daí, criei preconceito contra os advogados. Achava que defendiam os culpados e condenavam os inocentes. Médico, eu não podia, porque o curso era tempo integral e eu precisava trabalhar. A engenharia foi por exclusão. O curso tinha três anos e havia uma controvérsia: valia mesmo como um curso de engenharia com essa duração mais curta? O Ipuc entrou na Justiça e conseguiu reconhecê-lo. Quando eu recebi o diploma, em 1967, o banco abriu um concurso para engenheiro. Tirei primeiro lugar e virei engenheiro do banco, inicialmente encarregado de trabalhar na reestruturação das usinas de açúcar e em atividades relacionadas com o planejamento energético e industrial, em um trabalho de toda a equipe do departamento denominado Diagnóstico da Economia Mineira.
Em 1971, o senhor fez um curso sobre planejamento e desenvolvimento no Chile, que deu um novo rumo à sua carreira. Como surgiu a oportunidade?
A partir do diagnóstico, o banco fez um convênio com o Ilpes, o Instituto Latino-americano de Planejamento Econômico e Social, vinculado à Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe [Cepal], para montar um sistema de planejamento no estado. Vieram os especialistas das Nações Unidas em indústria e fui trabalhar com um deles, o uruguaio Tulio Balso, engenheiro, grande conhecedor da indústria. Mesmo formado em engenharia de operações, continuei fazendo o curso pleno de engenharia no Ipuc e, dois anos e meio depois, me formei em engenharia mecânica. A equipe do Ilpes era coordenada pelo Carlos Matus [1931-1988], que depois foi ministro do presidente chileno Salvador Allende. Eu pedi para fazer o curso de três meses de planejamento que a Cepal oferecia no Brasil e o Matus falou comigo: “Campolina, não saia agora, precisamos de você, mas prometo que, quando abrir um curso de longa duração lá no Chile, eu te convido”.
Como foi o período no Chile?
Fui entrevistado no Rio de Janeiro pelo professor Antônio Barros de Castro [1938-2011], que era funcionário do Ilpes, para saber se tinha nível para fazer o curso. Passei 10 meses em Santiago. Parte da equipe do Ilpes que esteve em Minas tinha ido trabalhar no governo Allende. Mas os brasileiros continuaram, como a Maria da Conceição Tavares [1930-2024], o Antônio Barros de Castro, o Antonio Baltar [1915-2003]. O famoso [economista argentino] Raúl Prebisch [1901-1986], mentor e primeiro dirigente da Cepal, veio de Nova York e nos ofereceu um curso excepcional de 60 horas, baseado em seu livro recém-lançado Transformación y desarrollo: La gran tarea de América Latina. O Chile estava em efervescência em 1971. A turma era muito radical, achava que ia fazer a revolução. Eu sempre fui um reformista.
Por que interrompeu a carreira no banco quando decidiu fazer o mestrado da Unicamp?
Eu voltei do Chile e virei chefe da assessoria econômica do banco. Com a queda do Allende, o Castro me recomendou fazer o mestrado em economia que eles estavam criando na Unicamp. Eu não tinha formação de economista e era preciso passar pela seleção da Anpec [Associação Nacional dos Centros de Pós-graduação em Economia]. Como eu estava em casa engessado após um grave acidente de carro, tinha disponibilidade para me preparar e fui aprovado. Aí, pedi licença para fazer o mestrado. Só que o presidente do banco, embora fosse uma pessoa excepcionalmente agradável no trato pessoal, era uma das figuras mais reacionárias que eu conheci. Ele ficou de avaliar, depois me disse: “Aquele curso de economia da Unicamp é um bando de comunistas. Só dou licença se for pra fazer um curso no FMI [Fundo Monetário Internacional]”. Eu recusei. Aí, tirei dois períodos de férias acumuladas e pedi uma licença para tratar de assuntos particulares, sem remuneração. Vivi um ano e meio em Campinas com a bolsa de mestrado.
Maria da Conceição Tavares dava aulas xingando. Era uma excelente professora, instigante até o limite
O que analisou em sua pesquisa de mestrado?
A dissertação deu origem ao livro Estado e capital estrangeiro na industrialização mineira, com o qual ganhei o Prêmio Diogo de Vasconcelos, da Coordenadoria de Cultura de Minas Gerais. Ele foi adotado em disciplinas sobre a economia de Minas Gerais e utilizado pelos órgãos de planejamento. Estudei o processo de industrialização de Minas Gerais e uma das conclusões é que tinha pouca indústria comandada pelo empresariado local: ou era do Estado ou de capital estrangeiro. O empresariado brasileiro, de modo geral, é relativamente fraco, principalmente nas regiões mais atrasadas. É mais forte em São Paulo e nos estados do Sul – no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, principalmente.
O que aconteceu quando retornou da Unicamp?
Voltei com os créditos prontos e precisava escrever a dissertação. O presidente do banco tinha mudado. Recebi um convite da UFMG para dar aulas no curso de pós-graduação no Cedeplar. Pedi autorização ao banco para acumular as duas funções. Expliquei: vou lá duas manhãs por semana, dou as aulas cedinho e venho para o banco. O presidente disse que não tinha interesse, que dar aula atrapalhava. Pelejei com ele, mas não teve jeito. Ele me disse: “Temos duas alternativas, ou lhe prometo a próxima diretoria que vagar ou você me dá uma carta de demissão”. Apresentei minha demissão e fui embora para ganhar um terço do que eu ganhava. O banco pagava muito bem nessa época. Nos seis anos que passei como engenheiro continuei morando em uma república e ajudei meus pais e irmãos. Saí do banco no ano em que me casei. Eu digo para a minha mulher que ela namorou um cara que tinha dinheiro e casou com um pobretão.
Como foi a transição para a carreira de pesquisador?
Fui contratado como professor substituto em 1976 e só entrei no quadro permanente em 1978. Me deram algumas disciplinas para lecionar. Uma de teoria econômica no mestrado e uma de introdução à economia para duas turmas na escola de engenharia. Em seguida, uma de economia internacional e outra de economia da ciência e da tecnologia. Eu era recém-casado e até no sábado de noite tinha que preparar aula. Em 1982, a universidade me deu licença e fui de novo para Campinas fazer o doutorado. Fiz os créditos e fui para Oxford fazer um doutorado-sanduíche.
Como era a Unicamp nos dois períodos em que esteve lá?
Eu fui para lá em 1974, um ano depois de a Unicamp formar a primeira turma de graduação em economia. Maria da Conceição Tavares e Carlos Lessa [1936-2020] moravam no Rio, mas iam a Campinas praticamente toda semana. O João Manuel Cardoso de Mello e o Luiz Gonzaga Belluzzo foram as pessoas que ajudaram a estruturar a criação do curso de graduação da Unicamp. O Antônio Barros de Castro, o Wilson Cano [1937-2020] e o Ferdinando de Oliveira Figueiredo [1920-2014] moravam em Campinas. O famoso professor Fernando Novais dava aula de história econômica. A equipe era excepcional. Em seguida vieram outros: Luciano Coutinho, José Carlos Braga, Carlos Alonso. A Conceição dava aulas xingando os nomes mais feios que você pode pensar. Era uma excelente professora, entusiasmada e instigante até o limite. Ela nos punha para trabalhar e pensar o tempo todo. Eu me lembro de fazer um seminário ainda no mestrado, no curso da Conceição. Entrei por uma porta e a Conceição por outra. Ela gritou: “Campolina, você leu o autor fulano?”. Eu respondi que não, não tinha essa referência. Ela respondeu: “Então o seminário não vai prestar, melhor cancelar”. E eu, com a minha ignorância primitiva, respondi na lata: “Primeiro a senhora ouça para depois ter opinião”. Fiz o seminário tenso, mas havia preparado bem. Quando eu terminei, ela veio, me abraçou, deu um beijo na testa e falou: “Que maravilha de aluno”. Provocava até o limite. Quando voltei para a Unicamp no doutorado, em 1982, muita gente tinha saído para trabalhar no governo de São Paulo, com a eleição do Franco Montoro.
Saí do banco no ano em que me casei. Digo que a minha mulher namorou um cara com dinheiro e casou com um pobretão
Seu doutorado relacionou a dinâmica da produção agropecuária e mineral com o desenvolvimento regional no Brasil. Quais foram as principais conclusões?
Observei, por exemplo, que estava havendo uma desconcentração do setor agropecuário e da atividade mineral e isso tinha um efeito sobre outras atividades econômicas, como a indústria. No primeiro semestre de 1983, fui para Oxford e estruturei a tese. Quando voltei, em meados de 1984, entreguei a tese para o Wilson Cano, meu orientador. Ele queria que eu mudasse a conclusão. Eu disse não, e chegamos a um impasse. O Cano era um excelente orientador, mas não concordava com a ideia de que São Paulo perderia participação relativa na indústria, como a tese propunha. Fiz um levantamento e observei que a decisão de investimento já estava saindo de São Paulo. O Mário Possas, que era diretor do Instituto de Economia da Unicamp, nos convidou para almoçar, mas fiquei irredutível. Aí o Mário falou: “Wilson, a tese é dele, ele quer defender”. O Cano falou: “Você pode defender, mas eu não assumo responsabilidade”. A defesa foi tensa, começou às 14h e acabou às 19h30. Eu defendi minhas opiniões com garra. No final, a banca me deu cinco notas 10 e saímos todos para a casa do Wilson Cano, por ele convidados para um churrasco. No trabalho que apresentei no concurso de professor titular na UFMG, em 1991, reafirmo esses pontos. Fiz uma parte dele nos Estados Unidos, já no pós-doutorado, analisando a questão da desindustrialização do nordeste daquele país, das mudanças tecnológicas e da expansão do Vale do Silício. Lá estão os fundamentos da perda da participação relativa de São Paulo, que depois publiquei em dois artigos, sobre a reestruturação produtiva e o impacto regional da indústria brasileira e sobre o desenvolvimento poligonal no Brasil.
Qual é a definição de desenvolvimento poligonal?
Esse trabalho ganhou ênfase porque eu mudei um referencial a fim de enxergar para onde a indústria estava indo. Em vez de tomar como referência as unidades federativas, comecei a trabalhar com as microrregiões geográficas definidas pelo IBGE [Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística]. Eu separava a Região Metropolitana de São Paulo do restante do estado de São Paulo e do país. O desenvolvimento poligonal mostrava o seguinte: a região de São Paulo estava perdendo participação relativa, mas a desconcentração da indústria estava sendo contida dentro de um polígono, cujos vértices eram Belo Horizonte, Uberlândia, Londrina, Caxias do Sul, Florianópolis, voltando a Belo Horizonte. O Rio de Janeiro ficava de fora. Esse trabalho foi publicado pelo International Journal of Urban and Regional Research e tem quase mil citações. Tenho outro trabalho que se chama “Reestruturação produtiva e impacto regional da indústria brasileira”, que eu fiz com meu assistente na época, o Marco Crocco, e mais ou menos confirma essas tendências. Mais tarde, fiz um trabalho para o Ipea [Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada], publicado em 2005, em que mostrei que está havendo um certo alargamento desse polígono como efeito da expansão da fronteira agrícola. Goiás cresceu muito e há também algumas indústrias indo para o Centro-Oeste, mas o grosso continua dentro do polígono, incluído o interior de São Paulo.
Queria falar de sua trajetória no Cedeplar. O senhor ajudou a reestruturar o curso de economia regional. Qual foi sua contribuição?
O Cedeplar foi criado em 1967, sob a liderança do Fernando Reis e de outros professores que queriam escapar da influência dos catedráticos e vincularam o centro, a princípio, à reitoria da universidade. Depois, uma das disciplinas, demografia econômica, cresceu e virou área própria. Mas o curso de economia regional estava claudicante depois de perder a maioria dos professores criadores do Cedeplar, que ocuparam cargos nos governos federal e estadual. Eu era professor de teoria econômica, economia industrial, economia da tecnologia e da inovação, mas resolvi salvar o curso de economia regional. Convidei o Maurício Borges, meu colega no mestrado, para a regional. E uma professora que estava voltando da Inglaterra, a Maria Regina Nabuco [1942- 2004], também se incorporou. Nós agarramos o curso de economia regional à unha e conseguimos salvá-lo.
Depois de ter sido vetado como aluno da UFMG, o senhor se tornou o reitor da universidade. O que destaca em sua passagem pela reitoria?
Eu fui reitor, mas antes fui diretor do Cedeplar, por dois mandatos alternados, chefe do Departamento de Economia e diretor da Faculdade de Ciências Econômicas. Pode parecer falta de modéstia, mas nunca pleiteei os cargos, sempre fui empurrado para eles. Fui estimulado a ser candidato a reitor e tive 72% dos votos. A UFMG já era uma grande universidade e não tive muita contribuição para a sua melhoria. Mas tentei dar um padrão de internacionalização a ela. Saí da roça e morei no Chile, na Inglaterra, nos Estados Unidos e por períodos curtos na França e na Itália. Fui 10 vezes à China e cinco vezes à Coreia do Sul, fui à Rússia, Japão, Austrália. Alguns de meus colegas diziam que eu era “um capiau cosmopolita”. Sempre achei que o Brasil precisava melhorar a sua inserção internacional. Quando fui reitor, nós tínhamos um centro de estudos sobre a Índia. Criei outros quatro: africano, chinês, sul-americano e europeu. Nos últimos anos na UFMG, trabalhei muito sobre o papel da pesquisa e da tecnologia no desenvolvimento, creio que baseado na minha experiência prévia e nas observações que fiz nas 10 vezes que visitei a China. Saí da reitoria e fui direto para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, em Brasília.
A economia regional abandonou as cidades. É preciso voltar a vincular o desenvolvimento urbano com o regional
Passou menos de um ano à frente da pasta. Por quê?
Foram menos de 10 meses. Montamos um programa que se chamava Plataformas do Conhecimento, que, infelizmente, não foi implementado. A ideia das plataformas era articular a base empresarial com a pesquisa científica feita nas universidades e com os órgãos de fomento. Chegamos a desenhar várias plataformas. Um exemplo foi a da aeronáutica, articulando a Embraer, seus fornecedores, os programas de pós-graduação em engenharia aeronáutica, e órgãos como BNDES e Finep. Mas as plataformas seriam um programa para implementar ao longo de 15 anos e não houve continuidade. A presidente Dilma queria que eu continuasse, mas ficar no ministério não era o meu projeto pessoal. Eu tinha um convite para ir para a London School of Economics and Political Science, que havia postergado. Foi um pouco de irresponsabilidade minha, porque montei o programa e fui embora. Na Inglaterra, me tornei membro da Academia Britânica de Ciências Sociais e vice-presidente da Regional Science Association.
O senhor se aposentou na UFMG em 2014. O que está fazendo agora?
Continuo pesquisando. Sou professor emérito da UFMG e, no momento, professor visitante do Programa de Pós-graduação da Universidade Federal da Bahia. Estou concluindo dois artigos. Um sobre a posição do Brasil em face da corrida científica e tecnológica mundial e outro sobre a reestruturação espacial da economia brasileira. Vou dar uma grande ênfase às regiões de influência das cidades, uma metodologia adotada em um estudo chamado Recig, do IBGE, lançado em 2018. A tradição de pensar a economia regional abandonou a cidade e é preciso voltar a vincular o desenvolvimento urbano com o regional: a cidade estrutura e comanda o território. Tenho um trabalho que publiquei na Area Development and Policy, editada na Academia Chinesa de Ciências, em que mostro a crise urbana que o Brasil criou com essa megametropolização. Criamos esse caos, que é a concentração de crime, de pobreza, de miséria. Você pega uma cidade como o Rio de Janeiro e só vê falar em crime. Nas grandes cidades brasileiras, o núcleo mais rico tem excelentes condições de vida. A periferia não tem educação nem renda. São Paulo hoje tem a maior concentração de pobreza do Brasil. A pobreza rural acabou. Hoje, a população rural é menos de 15%. Tem aposentadoria rural, tem bolsa-família, benefício de prestação continuada, vale-gás. A miséria está na periferia das cidades.
Como integrar o desenvolvimento regional e o urbano?
A grande experiência contemporânea é a que os chineses estão fazendo, reestruturando o território a partir de uma rede de cidades e da oferta de acessibilidade, com trens de alta velocidade. Há alguns anos, coordenei, para o Ministério do Planejamento, via CGEE [Centro de Gestão e Estudos Estratégicos], a proposta de construção do Brasil Policêntrico, no qual as cidades estruturam e comandam o território. Não dá para pensar o desenvolvimento regional fora das cidades. A gente propunha, no lugar de inchar as metrópoles do litoral, selecionar um conjunto de cidades de porte médio para as quais se devia dar acessibilidade e implantar serviços públicos – e aí sim se poderia tentar atrair o investimento privado. Mas o Brasil não consegue se planejar. O planejamento faz falta ao país.
Não há experiências positivas no Brasil?
Brasília teve um papel central na reestruturação territorial do Brasil. Goiânia foi uma cidade que se estruturou pela proximidade com Brasília e pela expansão da fronteira agrícola e hoje está ganhando importância relativa. E não só as capitais. Barreiras, no oeste baiano, virou um centro de referência da soja. Isso também ocorre com as vizinhas Petrolina, em Pernambuco, e Juazeiro, na Bahia, em função da irrigação e da produção de frutas. São cidades que foram induzidas pela expansão do agro. No Centro-Oeste brasileiro, há um conjunto de cidades de porte médio onde não se vê miséria. Têm uma grande concentração de serviços, com comércio, colégio, banco, hotel, porque há renda. Não tem nada a ver com essas cidades do leste de Minas ou do interior do Rio de Janeiro, que estão paradas no tempo.
Continua frequentando o Cedeplar?
Quase toda semana eu vou lá. Mas eu não estou dando aula. É um processo natural ir se afastando. O que me interessa é manter a produção acadêmica.
A entrevista acima foi publicada com o título “Clelio Campolina: O Brasil não se planeja” na edição impressa nº 353 de julho de 2025.
https://revistapesquisa.fapesp.br/especialista-em-economia-regional-defende-fortalecimento-de-cidades-medias-do-pais/https:/revistapesquisa.fapesp.br/autor/fabricio/', 'Fabrício Marques – Pesquisa Fapesp']);" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(66, 139, 202); text-decoration: none; margin: 10px 0px;">Fabrício Marques – Pesquisa Fapesp